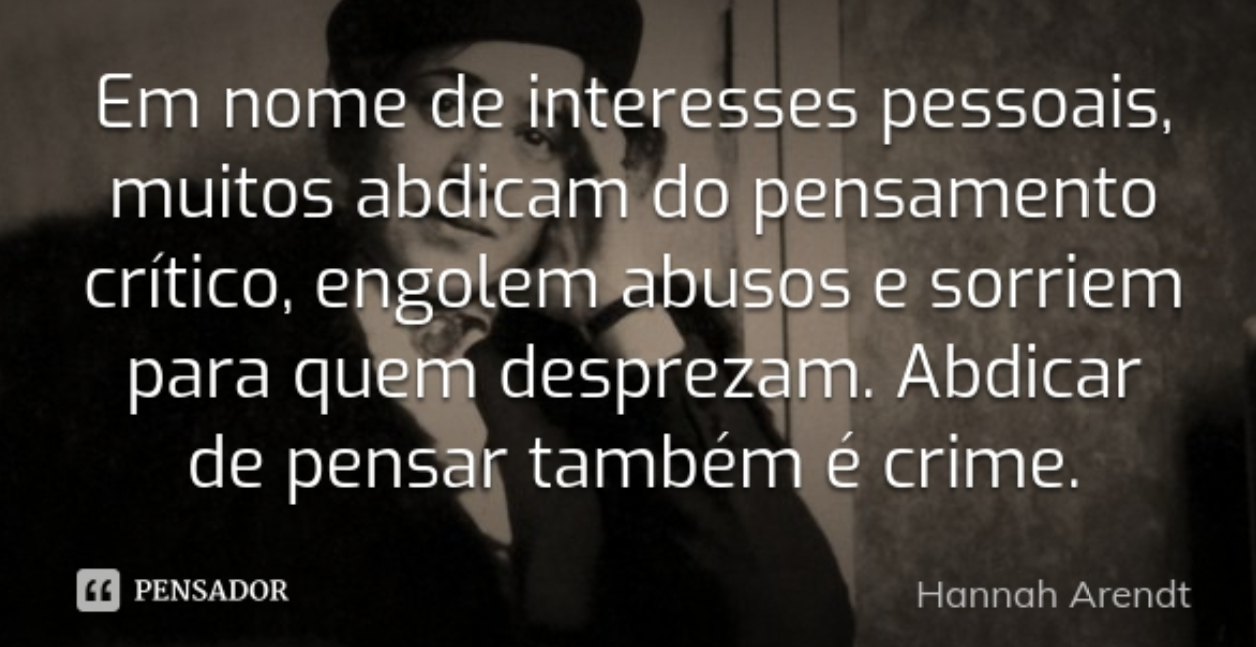
PENSANDO SEM CORRIMÃO – “Pensar é perigoso; não pensar é mais perigoso ainda.” Hannah Arendt (1906-1975)
“A minha convicção”, escreveu Hannah Arendt, “é que o pensamento nasce de acontecimentos da experiência vivida e que deve continuar-lhes ligado como aos guias que servem para nos orientarmos.” [1]
Sem dúvida, na vida de Arendt a experiência vivida quintessencial para determinar os rumos de seu pensamento foi sua condição como judia alemã perseguida pelos nazis: obrigada ao exílio em 1933, ano do incêndio do Reichstag (https://bit.ly/2jUH2v6) e do início do III Reich hitlerista, Arendt emigrou para a França. Ali, em 1937, perderia sua cidadania alemã, tornando-se uma apátrida, categoria que depois teria presença tão forte em sua obra.
Os apátridas, já que foram despidos do escudo protetor da cidadania – que ela definia como “o direito a ter direitos” -, adentram numa zona perigosa da condição humana, onde são considerados por poderes totalitários como seres matáveis, sub-humanos. Arendt, tratada como pária pela Alemanha que expulsou esta filha de seu ventre, na França chegou a ponto de ser encarcerada no campo de concentração de Gurs em 1940. [2]
Libertada em Maio de 1941, emigrou para os EUA, em uma época em que já se desenrolava o mecanismo fatal da Solução Final: o extermínio em massa de judeus nos campos de concentração como Auschwitz, Treblinka e Birkenau:
“Eis os fatos: 6 milhões de judeus, 6 milhões de seres humanos foram arrastados para a morte sem se poderem defender… Não há história mais difícil de contar em toda a História da humanidade. E, no entanto, nós precisamos desesperadamente, para o futuro, da história verdadeira desse inferno construído pelos nazis. Não só porque tais fatos alteraram e envenenaram o próprio ar que respiramos, não só porque povoam os nossos pesadelos e impregnam os nossos pensamentos dia e noite, mas também porque se tornaram a experiência fundamental da nossa época e a sua angústia fundamental.” [3]
O totalitarismo, como grande catástrofe do século XX, torna-se central para o pensamento de Arendt, filósofa devotada a compreender como foram possíveis as atrocidades e os horrores totalitários. Sintetizando as conclusões Arendtianas, Catherine Vallée pondera:
“o mal extremo infiltra-se no mundo quando os cidadãos abandonam o espaço público-político para se refugiarem na segurança e no aconchego dos valores privados; quando aceitam cumprir ordens que desaprovam, lavando daí as mãos; quando desistem de pensar por si mesmos para irem na onda. Existe uma única defesa contra o totalitarismo: saber desobedecer, ousar pensar pela própria cabeça, nunca desistir de si. Não desertar do espaço público, pensar por si mesmo, ousar desobedecer: estas exigências conduzem Hannah Arendt a voltar-se para Sócrates como para alguém de quem a atualidade ainda tem muito que aprender.” [4]
Sócrates, que defendia que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, representaria para Arendt um emblema de vida filosófica dedicada àquela reflexão ajuizada que ela enxergava como antídoto salutar contra o totalitarismo. Vale lembrar que toda a reflexão sobre Adolf Eichmann, no livro-reportagem que Arendt escreve em 1961 a convite da revista The New Yorker, versa sobre as consequências funestas e atrozes da irreflexão:
“Eichmann representa o exemplo-tipo daquilo a que hoje chamamos ‘os criminosos de gabinete’ ou ‘os funcionários do mal’. Se ele nunca participou diretamente nas execuções, nem por isso deixou de ser o organizador eficaz e zeloso da Solução Final. O que Arendt descobre em Jerusalém é que esse homem capaz de crimes tão monstruosos não tem nada de um monstro: é descrito como normal, não tem tendências para o assassinato; também não é um ideólogo fanático, nem mesmo um anti-semita convicto. A noção de ‘banalidade do mal’ procura portanto revelar esse mal novo que não tem raízes nem motivos, que faz somente parte do ofício como se se tratasse de uma tarefa vulgar, e onde se unem num incompreensível paradoxo o caráter tão pouco ‘malvado’ do criminoso e o caráter tão monstruoso dos crimes que, apesar disso, ele cometeu.
Como se sabe, o único traço marcante de sua personalidade… é que ele se mostra ‘incapaz de pensar’. Não quer isto dizer que seja estúpido, mas repete fórmulas já gastas, estereótipos; e que se mostra totalmente desamparado quando se lhe apresenta uma situação nova para a qual não dispõe de uma banalidade de catálogo. Recusar-se a pensar é o mesmo que dizer, sobretudo, que Eichmann nunca se interrogou sobre o sentido das suas ações: ‘lavou as mãos’ da Solução Final que ele próprio organizou, demitindo-se de toda a responsabilidade e recusando-se a qualquer juízo pessoal.” [5]
Se a irreflexão, a idiotia, a incapacidade de assumir responsabilidade por seu próprio juízo e por suas próprias ações, acaba levando-nos ladeira abaixo rumo aos horrores totalitários, então é evidente que o só há remédio na difícil arte de pensar com coragem e autonomia, com senso crítico sempre alerta e vigilante, ousando dizer “não” àqueles que nos ordenam que façamos algo que julgamos, através de nossa faculdade de discernir entre Bem e Mal, como um mal evidente. É o que Arendt resumiu com a bela expressão: “pensar sem corrimão”.
Ainda que viver sem refletir seja plenamente possível, e não faltam exemplos em nosso cotidiano daqueles que parecem atravessar a terra como sonâmbulos, aplicando à suas mentes a perigosa lei do mínimo esforço, segundo Arendt “fracassa em fazer desabrochar sua própria essência – ela não é apenas sem sentido; ela não é totalmente viva.” [6]
Demitir-se da tarefa de pensar por si mesmo, recusar o peso da responsabilidade própria, é o atalho mais rápido para que nos tornemos os cordeirinhos obedientes dos poderes mundiais que transformam os seres humanos em supérfluos e que, por escassez de amor ao mundo e à pluralidade a ele inerente, praticam as hecatombes de diversidade de que o século XX foi o palco sem precedentes.
Sócrates, o pensador-dialogante, agindo no espaço público através de suas provocações questionadoras, praticando a maiêutica (o parto das idéias) no coração da pólis, poderia ser visto como símbolo da conduta daquele que não deseja permitir que o povo não pense.
Ainda que seja xingado por seus detratores, apelidado de Mosca irritante, Sócrates é aquele que não dá permissão para a preguiça do pensamento. Sua ação política, ainda que ele não tenha sido governante nem tenha ocupado cargos públicos, tem a ver com esta presença no espaço público, em que ele toma a iniciativa de instaurar zonas de diálogo onde o pensamento é exercitado em comum, entre a multiplicidade dos humanos.
Como conciliar esta imagem de Sócrates, o cidadão que dissemina a reflexão pelo corpo social, com a imagem platônica, veiculada pela obra “A República” (Politéia), onde o socratismo se tinge de dogmatismo, ou mesmo de tirania, através da doutrina do filósofo-rei?
Para Arendt, Platão teria traído o Sócrates real, ou melhor, haveria no corpus platônico dois tipos de diálogos: os primeiros, veículo do Sócrates autêntico, são aqueles que conduzem a aporias e são verdadeiras máquinas de demolição do dogmatismo, que fazem o pensamento fluir, ainda que ele não chegue a descansar no remanso tranquilo das certezas indubitáveis; os segundos, veículo de um Sócrates inventado por Platão, seriam mais dogmáticos e revelariam uma figura arrogante, prepotente, que pensa poder impor à pólis o governo monárquico do filósofo-rei, superior a quaisquer outros governantes devido à perfeição moral de seu ascetismo existencial e de sua cognição que ascende ao transcendente.
Arendt apóia-se, para realizar esta divisão da obra platônica em duas metades, no helenista G. Vlastos, que defende: “Nas diferentes partes do corpus platônico, encontram-se dois filósofos com o nome de Sócrates. O indivíduo continua a ser o mesmo, mas em grupos de diálogos diversos vemos ele praticar filosofias tão diferentes que é impossível terem sido descritas em coabitação constante no mesmo cérebro, a menos que se tratasse do cérebro de um esquizofrênico.” [7]
Filiando-se ao legado do primeiro Sócrates, o cidadão-pensante, a mosca na sopa da irreflexão, o parteiro de diálogos que movem o pensamento, Arendt afirmará que a pluralidade é a lei da terra, que “nenhum homem é uma ilha” (John Donne), e que a quintessência da política está aí: no fato de sermos indivíduos que participam de uma comunidade e por isso são inextricavelmente ligados aos outros por responsabilidades. Pensar é também uma responsabilidade, assim como respeitar a pluralidade que é inerente à condição humana.
“Arendt não é Lévinas. A ‘responsabilidade pelo outro’ enraiza-se, para Lévinas, no encontro do rosto do outro, necessariamente então no singular; e uma tal responsabilidade é por essência ética. A responsabilidade arendtiana é ‘responsabilidade pelo mundo’, é uma responsabilidade política que reclama um combate por direitos iguais para todos. Há pois um cuidar dos outros no plural, próximos e afastados, que encontramos ou que ficarão para sempre sem rosto, responsabilidade para com aqueles que vivem, mas também para com aqueles que hão-de viver. Arendt está, quanto a este ponto, muito próxima de seu amigo Hans Jonas: a responsabilidade pelo mundo é sempre responsabilidade pelo seu futuro.” [8]
Temos a responsabilidade de pensar, assim como devemos estar alertas quanto à arrogância de crermos que chegamos na verdade, que possuímos o conhecimento irrefutável do real. O pensamento se paralisa no sujeito que acredita demais que já sabe de tudo, e liberta-se quando conseguimos ir além de nossas crenças e opiniões, num processo de auto-escrutínio e auto-sondagem que cada eu tem a responsabilidade de fazer em meio à comunidade plural em que vive.
“Arendt destaca o lado ‘demolidor’ de Sócrates, que arrasa ‘os preconceitos e as crenças mal fundadas’, isto é, ‘as regras de uma sociedade dada numa época dada’, regras que pouco a pouco se tornam costumes e deixam de ser compreendidas por não serem interrogadas, são aplicadas de maneira mais ou menos mecânica, e que por isso deixam de ter sentido mesmo para quem as aplica. O conteúdo da regra pode então ser excelente, má é a relação que aquele que obedece mantém com a regra.” [9]
A adesão acrítica, impensada, a normais sociais reinantes em um dado momento histórico de uma sociedade específica, nunca poderá estar entre as práticas de um pensador que deseja pôr seu pensamento no exercício contínuo da avaliação da existência. O sabichão, que parou de estudar pois crê que tudo já aprendeu, é justamente o interlocutor preferencial de Sócrates, demolidor de pseudo-sábios, questionador infatigável dos seus concidadãos, e que segundo Arendt não visava ao saber definitivo, engessado, que conectamos ao termo Verdade e do qual Platão fez um ídolo perigoso.
Sócrates foi traído por Platão pois este quis pintá-lo, na República ou nas Leis, como um dogmático pregador de Verdades Transcendentes, quando o Sócrates de carne e osso havia sido um pensador em exercício interminável de seu juízo e que não aderia aos diktats / ditames da época em Atenas. O pensamento deve explorar de modo audaz o processo interminável do exame crítico, que começa pela relação do eu consigo mesmo, o auto-diálogo reflexivo que instaura a travessia do auto-conhecimento.
A distinção entre pensar e conhecer ganha então extrema importância: o pensamento é uma atividade que não visa o repouso final na tranquilidade de um conhecimento ganho de uma vez por todas. Pensar de verdade é sempre soltar o corrimão e pensar além do que se conhece. Aquilo que Sócrates admitia, sua própria ignorância, não é um vazio, um oco, um nada, mas sim a plena ciência de que não conhecemos clara e distintamente quase nada; a admissão de ignorância é positiva, abre um espaço de liberdade, onde o juízo se exercitará em público, com os outros, na pluralidade da esfera pública onde, na democracia ateniense, a persuasão devia valer mais que a violência.
Duas atividades humanas são essencialmente políticas, e Sócrates não as separava: “ação e palavra”, que “supõem diretamente a relação entre os homens e portanto a pluralidade, “formam um todo”, pois “a ação política cumpre-se pela palavra; a palavra é, em política, uma das formas privilegiadas da ação… Para Arendt, ‘viver numa cidade [pólis] significava que todas as coisas se decidiam pela palavra e pela persuasão e não pela força nem pela violência.’ Ao despotismo que caracteriza a vida privada da família, onde o dono da casa [despotes] exerce um poder absoluto, opõe-se a experiência não violenta da cidade onde tudo se faz pela persuasão.
Temos dificuldade, diz Arendt, em compreender hoje a força da persuasão [peithein] grega, cuja importância política é indicada pelo fato de Peithô, a deusa da persuasão, ter um templo em Atenas… Os Atenienses tinham orgulho em resolverem, ao contrário dos Bárbaros, os seus assuntos políticos pela palavra e sem o recurso à coerção; consideravam a retórica, arte da persuasão, a mais alta e verdadeira arte política.’ Persuadir é propor argumentos à razão de um interlocutor, é ‘cortejar o consentimento de outrem’; não é, portanto, nem coagir nem pressionar, é essencialmente deixar livre… Segundo Arendt, a prática do diálogo é a maneira socrática de ser cidadão e de fazer política.” (VALLÉÉ: 1999, p. 46) [10]

PEITHO was the goddess or personified spirit (daimona) of persuasion, seduction and charming speech. She was a handmaiden and herald of the goddess Aphrodite. Peitho was usually depicted as a woman with her hand raised in the act of persuasion or fleeing from the scene of a rape. Her attributes were a ball of twine and a dove. – SOURCE
Se a política se diferencia da guerra, é pois a política baseia-se no intercâmbio persuasivo e a guerra na coerção violenta, mas além disso a política está na dependência do exercício do pensamento, enquanto a guerra triunfa no solo nefasto da estupidez.
Pensar de verdade, com os outros, no espaço público, é uma força política sem a qual vamos chafurdando no totalitarismo, reinado total de uma falsa opinião (a de que a pluralidade humana deve ser sacrificada, ou seja, seres humanos supérfluos devem ser exterminados em prol de uma unidade homogênea, como aquela que motivou o delírio genocida dos nazis e seu “arianismo”, racista e eugênico). Dialogar de modo civilizado, com mútua disposição para o aprendizado, é o que torna a convivência política passível de dar bons frutos quando se traduz em ação conjunta:
O diálogo socrático é uma travessia do pensamento, sem ter como destinação o remanso lago das certezas indubitáveis. Tanto é assim que a maioria deles acaba em aporia, ou seja, numa situação embaraçosa, onde o mistério permanece… Este modo de diálogo tem um alcance político, e não só para a antiga Atenas; nós também, mais de 2.500 anos depois, ainda carecemos de compreender o quanto a política e o diálogo estão imbricados.
Mestre da arte dialogal, Sócrates não se limitou às conversações privadas entre um Eu e um Tu; seus bate-papos não se desenrolam dentro de casa, com parentes fechados no oikos. O diálogo rompe com as paredes da idiotia reinante e vai para o meio da fervilhante pluralidade humana:
“O objeto do diálogo socrático não é nem tu, nem eu, mas o mundo que está entre nós: a coragem, a justiça, a piedade… Há sempre espectadores para os diálogos de Sócrates, os quais podem, se o desejarem, tomar a palavra. Na linguagem de Arendt, o espectador é sempre ao mesmo tempo um juiz. Quando Sócrates interroga, quando alguém lhe responde para dizer o que lhe parece, são todos os que ali se encontram que aprendem a ver o mundo do ponto de vista de um outro, adquirindo assim uma ‘mentalidade alargada’, que permite julgar e que é a função política por excelência.” [11]
* * * * *
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] ARENDT, H. A Crise do Homem Moderno (1958), apud Vallée, p. 14.
[2] AUSCHWITZ STUDY GROUP (ASG). “Hannah Arendt, the Prisoner of Gurs Camp”. http://auschwitzstudygroup.com/56-english/projects/the-forgotten-camps/445-gurs-3
[3] ARENDT, H. Auschwitz e Jerusalém (1941-1966). Agora: 1993, apud Vallée, p. 13.
[4] VALLÉÉ, C. Hannah Arendt: Sócrates e a Questão do Totalitarismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 14.
[5] Idem, p. 19.
[6] ARENDT, H. A Vida do Espírito. Citada por Revista CULT: https://www.facebook.com/blogacasadevidro/posts/2481619525197691.
[7] VLASTOS, G. “Sócrates Contra Sócrates Em Platão”. In: Socrate: ironie et philosophie morale. Aubier, 1994, p. 70. Apud Vallée, p. 24.
[8] VALLÉÉ, C. Op Cit, p. 26.
[9] Idem, p. 39.
[10] Idem, p. 46
[11] Idem, p. 48.
* * * * *
Por Eduardo Carli de Moraes. Acompanhe A Casa de Vidro: www.acasadevidro.com.
Publicado em: 14/05/18
De autoria: Eduardo Carli de Moraes






